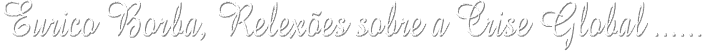Miloca, minha babá e querida amiga
Miloca, minha babá e querida amiga.
Ela nasceu no Herval, um distrito de Rio Pardo. Pouco se sabe da sua vida antes de ir trabalhar lá em casa. Isto foi em 1922.
Papai, médico do Exercito, serviu em Rio Pardo, Santa Maria, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Entre 1920, quando casou com mamãe, e 1940 nasceram sete filhos – cinco homens e duas mulheres. Formaram uma família unida, vida com padrão de classe média, nunca compraram um imóvel nem um carro. Nesta pequena comunidade Miloca teve um papel destacado. Começou como empregada doméstica, depois se tornou parte da família, querida por todos, uma governante da casa, participante ativa da vida de todos nós. Hoje, passados tantos anos da sua morte, sua imagem e estórias freqüentam nossos encontros com alegria e muitas saudades. Miloca não deixou frases e nem pensamentos profundos: era simples, humilde, e, certamente, para muitos seria considerada uma figura insignificante. O seu mundo era a nossa casa e a nossa família – os gostos, necessidades e as preferências de cada um. Sentenciava, com impressionante precisão, sobre o caráter das pessoas que via na televisão ou que encontrava no armazém ou na padaria: “ aquele ali a cara tá dizendo – tem mal interior”, ou, ao contrário – “ aquele outro não tem mal interior...”. Miloca nos amou dedicando mais da metade da sua vida a nós que tínhamos por ela uma veneração toda especial. Para mim e para a vida e formação de cada uma das minhas irmãs e irmãos foi um personagem de fundamental importância. Nos ensinou, pelo seu exemplo de décadas de convivência próxima, fidelidade, dedicação desinteressada e uma entrega total de amor e carinho a uma causa simples: nós, a sua única família, seu único bem.
Sabemos que nasceu em 1886. Foi criada pelos padrinhos, numa casa no campo, uma pequena fazendola, lugar que nunca esqueceu. Cuidava, contava ela, dos animais, das galinhas, da pequena lavoura e colhia laranjas e bergamotas no inverno. Orgulhava-se de ter montado muito bem, o baio do padrinho. Dizia que tinha um pequeno jardim em frente da casa que cuidava sozinha, só seu, com malvas, rosas e dálias – sempre gostou de flores. No final da vida tinha dois vasos pequenos com violetas. O cantar dos passarinhos a encantava. No Rio de Janeiro contentava-se com o piar das andorinhas e ficava animada quando conseguia distinguir um bem-te-vi, lá em Copacabana. Falava com muito carinho da madrinha e sabia que sua avó, mãe da sua mãe, era uma índia charrua.
Chamava-se Emiliana Pereira. Não estudara, sabia apenas desenhar o seu nome. Foi noiva e deste noivado nada se sabe – quem era o noivo, nem como começou nem como acabou. Mamãe dizia que logo que ela começou a trabalhar suspirava muito e às vezes chorava. Tinha umas terras, herança dos padrinhos, com as escrituras em ordem, devidamente lavradas em cartório, terras que vendeu para ajudar meus pais numa época de aperto, pouco antes do papai ir para a guerra na Itália. Isto foi em 1942. Meus pais nunca lhe pagaram – sei disso, pois quando discutia, exigia na sua brabeza: - “me dêem o dinheiro das minhas terras que eu vou me embora pro Herval”
Em 1948, morávamos em Santa Maria e ela foi de trem visitar o seu lugar de origem. Lembro que, criança, chorava muito com saudades dela e de quando voltou – sentada na cozinha, conversando com minha mãe, disse : -“ não encontrei mais ninguém, do meu tempo todos já se foram...”
Só tinha a nós.
Cuidou os sete irmãos desde o nascimento com um carinho todo seu – rústico e aconchegante, protetor. Cuidava da casa como se fosse sua – brigava sempre com as empregadas que não gostavam dela: - “estas mulheres não economizam o dinheiro do seu doutor e se deixar gastam e comem tudo”. O “seu doutor”, papai, respeitava, mas não se aproximava muito. Mamãe, a Dona Elvirinha, era tratada de forma especial – café na cama, chá várias vezes ao dia, e atendia aos chamados freqüentes: – “Miloca traga a caixa de costuras, Miloca atenda a campainha, Miloca traga uma manta que estou com frio nas pernas, Miloca pegue o catálogo, Miloca sente aqui para conversarmos”. Trocavam receitas, comentavam as novelas, primeiro as do rádio, em 1951 em Porto Alegre – o Direito de Nascer, o Jardim das Folhas Mortas – depois as da televisão. Miloca, no Rio de Janeiro, isto já em 1956, adorava o Chacrinha, o Ivon Cury cantando e o Golias. Costuravam e faziam tricô juntas. Miloca na sua cadeirinha de palha ao lado da Dona Elvirinha sentada na poltrona – chamávamos a mamãe de rainha mãe... Nossa babá querida segurava os novelos de lãs coloridas, com os braços abertos, para mamãe fazer as bolas de lã e lá iam surgindo suéteres, pulôveres, maianitas, luvas e meias para toda a família. Guardo, com cuidado, um suéter e um casaco de lã feito pelas duas. Papai, já aposentado, lia os jornais pela manhã e livros de tarde e a noite, no outro lado da sala. Mamãe reclamava da sua rotina: – “fica com estes benditos jornais e livros nas mãos o dia todo e não tem um minuto para conversar comigo, com os outros não para de falar”. Então conversava com a Miloca.
Miloca, além de nós, ajudou a cuidar de uma multidão de sobrinhos, filhos e filhas dos meus irmãos e irmãs. Dava banho, mudava as fraldas, cuidava da roupa, contava histórias para aquietá-los, cuidava da criançada para que os pais pudessem sair, os mesmos cuidados e carinhos que tínhamos experimentado. Aí de quem, na rua ou na pracinha, algum outro garoto se aproximasse com violência ou “brincadeiras estúpidas”, como dizia. Miloca virava uma fera e partia para cima do “agressor” de suas “crias”. Em Santa Maria, uma vez, brigou na praça, em frente da nossa casa, por minha causa, com outra babá, mais nova e segurando-a pelos cabelos encheu a mulher de tapas que gritava:“me acudam que esta velha vai me matar”. Meu cunhado teve de ir correndo para segurá-la e fazer com que largasse a moça apavorada. Era uma leoa quando tratava de nos defender. Mais velhos ficávamos encabulados, pois nas festas da família, víamos a Miloca pegar as melhores comidas, os maiores pedaços, para nos servir – era um escândalo gostoso de se apreciar...
Sempre foi pequenina – entortando com a idade para o lado direito e para frente. Tinha um tique nervoso que a fazia soprar a mão direita fechada, em intervalos irregulares de tempo, e então dizia baixinho “senhores...” Os cabelos sempre negros, longos, com alguns poucos fios brancos, ela penteava depois do banho sentada na sua pequena cadeira com um pente de osso. Passava um óleo cheiroso para ficar brilhante e os prendia num coque bem feito. Sua roupa, que cabiam todas numa gaveta, era enroladas em marcela e alfazema e cheirava gostoso, toda ela perfumada com fragrâncias simples e inesquecíveis. Não era bonita, nem feia. Sempre muito séria, de óculos com as lentes redondas, quase não ria e falava pouco – mas era muito querida, gostosa de abraçar e suas mãos calosas e enrugadas seguravam as minhas, primeiro para dormir e atravessar a rua, mais tarde só para fazer cosquinha quando conversávamos sobre os causos do Rio Grande: – o lobisomem, o índio Sepé Tiaraju, a mula sem cabeça, o Saci Pererê, a salamandra da serra do Jirau. Que saudades daquelas mãos, daquelas estórias!
Tenho dela, agora, o que eram os seus pertences no fim da vida – uma maleta de papelão duro, uma tesoura escura da marca Solingen e uma maquina de costura manual Singer. A máquina, que ainda ontem ouvi funcionar, enquanto lia, com seu ritmado toc-toc-toc, como quando ela costurava as suas roupas e de toda família, está aqui na minha biblioteca, em lugar privilegiado. O dedal de prata, que fora da madrinha, sumiu. O casaco de flanela que ainda guardo com carinho está se acabando. Sua manta quadriculada e colorida, de lã pura, aqueceu minhas filhas e neta, fazendo lembrar sua imagem, em pé, protegendo. Hoje aquece minha mulher. De suas orações, quando criança, lembro-me de uma só que rezava com devoção e bem ligeira quando trovejava forte – “Santa Barbara São Jerônimo, Santa Barbara São Jerônimo, Santa Barbara São Jerônimo” e, então, queimava, numa lata de goiabada, um pouco de palma santa, que eram bentas, todo ano, no Domingo de Ramos.
Cantava para nós dormirmos quando pequenos: “Vamos maninha vamos a praia passear, vamos ver a lancha nova que do céu caiu ao mar. Nossa Senhora vem dentro e os anjinhos a remar. Rema, rema, remadores que estas águas são de flores, rema, rema remadores que estas águas são de flores...” Sempre liguei esta canção à Paquetá pois era o único lugar que conhecia que tinha barcos e mar. Ela, tenho certeza, pensava, quando cantava, no Jacuí, nas lagoas e açudes do Rio Grande do Sul da sua mocidade.
Em algumas noites, quando papai e mamãe saiam, ela confidenciava – “vamos fazer sonhos”? Então comíamos muitos sonhos, com açúcar e canela e largas xícaras de café preto e então conversávamos – eu ouvindo, uma vez mais, os seus “causos”. Lembro-me bem de uma noite em especial, perto da meia noite, gostávamos de dormir tarde..., Miloca parou de costurar, olhou para a janela de onde só se divisava os outros prédios de Copacabana, e sentenciou com uma angustia enorme na sua voz meia rouca: - “aqui no Rio não se ouve os cachorros latir à distância, nem os galos cantarem durante a noite, os quero-quero até estou esquecendo como era, é tão triste não se ouvir mais estes animais...” Que saudades meu Deus. Eu, hoje, dela. Ela, naquela noite, dos seus sons e das suas paisagens primeiras.
Uma noite, eu e o Gama, um amigo, resolvemos tomar um porre. Pegávamos um pouquinho de cada uma das bebidas do papai – licores, vermute, uísque, cachaça, para que ele não desconfiasse, e bebíamos de um gole só. Vomitamos o escritório todo de tal maneira que, anos depois, em dias de chuva, podia-se sentir o cheiro azedo e doce do vômito e das bebidas. Miloca cuidou de nós e nunca contou para ninguém o que havíamos feito: “os dois comeram umas empadas estragadas na saída do cinema...”
Já crescido, quando voltava da praia, das regatas ou dos acampamentos, sempre encontrava um prato no forno com comida quente e água fresca na geladeira. Lavava um monte de roupa imunda e guardava tudo cheiroso e bem passado para “estar apresentável” na próxima aventura. Sabia das nossas coisas mais do que nós.
Nós, seus “filhos de criação” como gostava de afirmar, escondida da mamãe que não concordava com sentença, dizíamos que ela fizera todos os cursos que cursáramos, pois também estudara em nossas escolas preparando nossas merendas, fora a escoteira que cuidava dos apetrechos dos acampamentos e prestara vários serviços militar uma vez que era responsável por passar as fardas, lustrar os sapatos, polir os botões e, sua tarefa maior - nos acordar para nossas obrigações. Uma verdadeira batalha estas alvoradas, às quatro horas da madrugada para pegarmos o bonde e não nos atrasarmos para o quartel ou para o colégio. Uma das minhas irmãs, preguiçosa, era por ela vestida dormindo, com o uniforme da escola de freiras, inclusive as meias compridas que eram enfiadas pernas abaixo.
No dia do seu aniversário, do seu dinheirinho, comprava uns doces na padaria, uns poucos refrigerantes, e oferecia para todos. Nunca fizemos uma festa para ela, não nos lembrávamos. Nem presente ganhava. Sei lá o que pensávamos, talvez que não fizesse falta e ela não se importasse. Ela, no entanto, nunca nos esqueceu. Nos dias dos nossos aniversários era o primeiro beijo que recebíamos, com uma alegria no rosto enrugado, que até hoje me lembro como os melhores votos de felicidade que recebi em toda minha vida. Sempre encontrava um jeito de comprar uma meia, um lenço, um sabonete para nos presentear. Ela quase não ganhava nada. Quando comecei a trabalhar, foi por pouco tempo que pude fazer isto, gostava de presenteá-la para ciúmes da mamãe que também queria ser homenageada: - “ se a Miloca ganha eu também quero pois mereço mais...”. Um dilema desagradável para administrar estes ciúmes da dona Elvirinha...
No fim da vida, a velha tia Alborina, que morava no quarto andar do mesmo prédio em que morávamos, gaúcha também de Rio Pardo, muito devota do Sagrado Coração de Jesus, resolveu preparar a Miloca para a primeira comunhão. Fui a missa em que ela, com mais de oitenta anos, comungou pela primeira vez numa celebração das seis horas da tarde, na Igreja de São Paulo Apóstolo, perto da nossa casa, em Copacabana. Também começou a fazer parte do Apostolado da Oração e com que orgulho usava a fita vermelha da Congregação, no pescoço, quando ia para as reuniões semanais e nas missas, que começara a freqüentar, acompanhando papai e mamãe. Passou a rezar o terço às seis da tarde, todos os dias, e me chamava para rezar quando estava em casa. Eu, que na época era um orgulhoso agnóstico militante, me emocionava com a cena e ficava ao seu lado acompanhando as ave-marias e me sentia muito bem - uma grande paz nos envolvia.
Um dia, 6 de dezembro de 1965, me acordou cedo pois tinha prova na PUC. Serviu meu café, me deu um beijo e fui para a Universidade. Acabada a prova voltei em casa para almoçar, trocar de roupa e ir trabalhar. Uma sobrinha querida estava lá conosco. Ela abriu a porta chorando. Percebi, logo, que alguém havia morrido. Perguntei: “mamãe?” E a sobrinha respondeu: “Miloca”. Entrei e da porta de entrada vi, no fundo do corredor, no quarto em que eu e Miloca dormíamos, ela, morta, deitada, uma vela na cômoda e um silencio opressor na casa toda escurecida. Só os soluços da mamãe. Corri para o quarto e fiquei olhando para a minha babá – tranqüila, com seu vestido escuro com bolinhas brancas, o cordão do Apostolado da Oração no pescoço, mãos postas para a oração com um simples terço de bolinhas pretas, pareciam feijões, pronta para viver a eternidade. Mamãe se aproximou e disse: “perdi minha amiga, ainda tentei reanimá-la quando caiu na cozinha depois que acabou de fazer um doce de banana”. Papai retrucou: “ganhamos uma santa no céu”. Eu fiquei calado com um nó na garganta e pensei: “como foi boa, como sofreu com dignidade, calada, poucos devem ter sido seus momentos de felicidade, só tinha a nós”.
Está enterrada lá no cemitério do Caju, no Rio, no mesmo túmulo que abriga meu irmão Fernando que ela tanto gostava.
A família vai esquecendo a Miloca. Tentei preservar seu nome com minha filha mais velha, que faleceu faz pouco – chamava-se Maria Emilia. Restam algumas fotos. Também algumas narrativas carinhosas, que nos fazem rir saudosos, sobre a boa velhinha que nos cuidou, quando nos encontramos, nos cada vez mais raros encontros familiares, tentando manter viva a sua memória para as novas gerações. Sinto que não vão lembrar nem entender a imagem e a importância que a Miloca teve para nós. Então me pergunto: qual o sentido da vida da Miloca? Uma pessoa que passou pela vida com humilde dignidade, para cuidar de nós sem outra expectativa a não ser esperar os raros momentos que dedicávamos a ela: um beijo e algumas palavras, quando, então, ela sorria, assoprava a mão e dizia baixinho, sorrindo meio encabulada pela atenção que lhe dispensavam,: “senhores...”
Miloca, definitivamente, não tinha mal interior...
Eurico de Andrade Neves Borba
Enviado por Eurico de Andrade Neves Borba em 23/08/2010