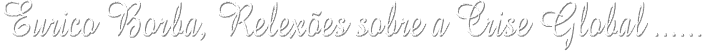Uma Francesa na Serra Gaúcha...
C o n t o s S i n g e l o s
Ana Rech, setembro de 2004.
Eurico de Andrade Neves Borba
Uma Francesa na Serra Gaúcha
Eu e os mais antigos moradores do pequeno distrito de Caxias do Sul, aqueles que estão com cerca de 80 anos de idade, homens e mulheres, somos todos unânimes em afirmar que ela chegou em março de 1946.
Chegou no trem de Porto Alegre, alugou cinco táxis de uma só vez, ali mesmo na estação – uma bagagem enorme de malas e pacotes. Não trouxera móveis, nem roupa de cama e mesa, nem louças, nem talheres, nem quadros ou outros objetos que toda casa tem além de vassouras, panos, panelas. Logo se soube, pelos motoristas, que eram livros, (alguns pacotes estavam se abrindo), e roupas. A maior parte livros, poucas as malas com roupas.
Na estação só o PE. Ferdinand, da Igreja de Ana Rech, esperava a francesa. Se abraçaram em silêncio e choraram muito por muito tempo.
Seguiu direto para o Hotel Bela Vista, que ainda hoje existe mais amplo e moderno, mas conservando o prédio antigo onde Jacqueline Marie D’Aubousson hospedou-se. Não havia feito reserva, mas havia espaço. Alugou dois apartamentos contíguos e pagou adiantados três meses. Não pechinchou. Pagou em dinheiro vivo, na hora, abrindo a bolsa com determinação e rapidez, para que não houvesse oportunidade de contestação, uma novidade para os donos agradavelmente surpresos – uma estrangeira no Hotel, relativamente jovem, uma bela e solteira mulher e que ainda por cima pagava à vista.
Fazia-se entender com o francês falado vagarosamente, entremeado de um espanhol estropiado que não se sabia dizer qual o mais fácil de entender: se o francês incompreensível para os habitantes do lugar ou se o espanhol que todos reconheciam pelos gracias, hambre, água, comida, e mais algumas poucas palavras absolutamente necessárias para a sobrevivência e o convívio – buenos dias, buenas noches.
Alta para os padrões brasileiros, com um cabelo muito curto, louro escuro, corpo musculoso, bem feito, com as curvas, afundamentos e protuberâncias todas bem colocadas e proporcionais, que apareciam marcadas com nitidez pelas roupas justas, o que era um escândalo totalmente inaceitável para as nossas mulheres, na época da chegada da francesa.
Um corpo ágil, seios firmes na medida certa. Nariz empinado, maxilares bem delineados e lindos olhos azuis. Caminhava com um recato provocativo que só as grandes fêmeas sabem fazer. Não era o rebolado tropical, das nossas morenas, louras, mulatas e negras, com as quais estávamos acostumados e que mediamos a qualidade de cada uma pela tesão despertada, só pelo andar. Com a francesa era diferente. Era um caminhar tranqüilo, altivo, vertical, permitindo que se percebesse o todo do belo corpo daquela mulher, se movendo ou parada, que viera de tão longe, misteriosamente, da França.
Os homens, na faixa etária dos 20 aos 50 anos, ficaram excitadíssimos com a possibilidade de conquista e sonhavam com ela a cada instante. A possibilidade de ter uma francesa nos braços... Nunca suas mulheres foram tão bem possuídas nas noites frias de Ana Rech como naqueles dias de encantamento inicial. Nunca desconfiaram o porquê de tanto entusiasmo dos seus maridos e amantes ocasionais... Depois Jacqueline enfurnou-se na sua casa nova, que mandara construir com a rapidez fruto de pagamentos em dia e sem discussão. A casa fora erguida a partir de seu próprio desenho e instruções, logo no início da Vila Pinheiros. Pronta a casa, de pedra escura, avermelhada, não muito grande, comprou, no comércio local, móveis, panelas, lençóis e tudo o mais que uma moradia precisa e praticamente sumiu de circulação. Foi vista no enterro, em 1990, aliás muito concorrido, fruto da curiosidade que a reclusa da casa de pedras sempre despertara em todos, há muito tempo. Contrariando suas instruções abriram o caixão para olharem a velhinha magrinha, com sua expressão bela, tranqüila e determinada.
Era vista, de vez em quando, caminhando pensativa e calada, muito cedo ou nas noites de lua cheia, pelos caminhos de terra batida do pequeno distrito. Podia, também, ser encontrada na missa das nove nos domingos e dias santos e não era vista em mais nenhum lugar, a misteriosa estrangeira. A cada ano se tornava mais arredia e esquisita. Não fez amizades. Não visitava ninguém nem recebia visitas. Seu único contato era o padre Ferdinand, o rebelde camaldulense, que recusara a determinação dos seus superiores para voltar para a Itália, em 1927, ficando por aqui, terra que aprendera amar. Mudara de congregação, com todos os consentimentos canônicos, e agora pertencia aos Murialdos de São Jose. Fundaram um Colégio, que até hoje se ergue sobranceiro na ladeira que dá entrada à Ana Rech, ao lado da Igreja.
A estrangeira permanecia trancada em casa em companhia de uma cabocla, meio índia meio negra, a Noca, que cuidava da casa, fazia as compras, cozinhava e não falava com ninguém, como a patroa, nem um bom dia. Dela não se conseguia a menor informação, só um olhar abobado, meio raivoso, para com as pessoas que ousavam puxar conversa. Contam alguns moradores, que no final, Noca falava um excelente francês, tornando-se até professora, depois da morte da sua patroa. Teria ido lá para os lados da Fazenda Souza onde, com suas economias, comprara uma pequena casa e fora aproveitada pelos padres que mantinham, naqueles ermos, uma casa de estudos e de retiros.
O arroubo dos machos foi se aquietando, com esse distante e estranho comportamento da francesa, até que só as suas esposas se lembravam de como haviam sido bem servidas - seus maridos haviam sido geniais na cama - naquele período entre março de 1946 e final de 1949.
Jacqueline chorava sem soluçar. Só as lagrimas escorriam, silenciosamente, pela sua face sem pintura. Sentava-se na janela do quarto do hotel e ficava por horas a olhar a paisagem de araucárias e de um arvoredo cerrado com o qual não estava acostumada. Chorava. Curtia sua tristeza e saudades profundas. Sabia que não voltaria mais para a sua amada Normandia, nem veria mais Paris. Não havia como nem porque voltar – as lembranças a matariam. Fora humilhada demais depois de ter vivido um grande e pleno amor. Sabia que não poderia retornar à França, sofreria muito novamente. Não suportava a idéia de reviver, uma vez mais, todo o horror dos meses finais de 1944.
Lembrava-se com saudades de algumas poucas coisas – uma lembrança que a penetrava devagarzinho, como que se aproveitando das fragilidades do seu ser tão testado pelo desespero, pelo sofrimento, pela paixão.
Lembrava-se, a cada instante, daquele que se fora de vez, Dietrich. Era uma dor e uma saudade surda que nascia nas suas entranhas e se espalhava pelo corpo inteiro, diferente das demais dores e saudades que já experimentara. Eram diferentes em intensidade e forma. Vinham lá do fundo do seu corpo, da alma, como que servindo de substrato para a sua própria existência, como que raízes sugando a seiva nova do seu ser aqui além mar, em terras estranhas. Não se apercebia, sem esta dor de fundo, uma dor preciosa e como que necessária, pois ao fazê-la sofrer também despertava e fazia lembrar os momentos gloriosos de prazer, de amor e de felicidades como nunca mais experimentaria. Nestes instantes a memória do ente querido surgia forte, quase realidade, ele que se fora quase que literalmente arrancado dos seus braços, mas que propiciara bons e memoráveis momentos de união e vida em comum, de paixão compartilhada com alegria e sentimento de eternidade. Estas recordações, mesmo sofridas, consolavam e ajudavam a suportar a vida. Foram estas memórias dos momentos tão deles, tão preciosos nos seus detalhes, que a seguraram em inúmeros instantes para não se suicidar. Num certo sentido sorria junto com as lagrimas que até as provocava, procurando apoio real para as lembranças dos seus dias europeus, que a mantinham viva: - suas recordações as mais felizes... As lagrimas, a dor, eram complementos necessários, inescapáveis para a eclosão da memória.
Lembrava-se de ter assistido o Dr. Freud, em Viena, lá pelo final dos anos de 1930, antes do Anschllus em 1938, a anexação da Áustria pela Alemanha, e do psicanalista ser perseguido pela boçalidade nazista, por ser judeu, e ter de migrar para a Inglaterra onde morreu. Fora num curso de verão, no verão de 1936. Numa conferência que assistira, ouvira e gravara na mente a reflexão do simpático doutor afirmado, quase como um comentário sem maior valor, que “o sofredor não se permite a felicidade...”. Havia concordado na ocasião, mas gostaria de, agora, poder dizer a Herr Freud que ele estava totalmente certo, pelo menos no que lhe dizia respeito. Ela procurava, naqueles dias iniciais de vida brasileira, a dor das recordações, pois conseguia, antes de começar a sofrer, recuperar instantes antecedentes em que fora feliz, muito feliz. E ao recuperá-los, por momentos, por mais exíguos que fossem, ela era novamente a Jackie sorridente, despreocupada, estudiosa, que corria pelos campos da Normandia, pelas ruas de Paris para ir se encontrar com o seu Dietrich. Então, depois, começava o caos e os temores, com as lembranças das prisões, dos fuzilamentos sumários, das condenações, a fuga para o Brasil, uma fuga que não acabava nunca, nunca...
Nascera em Bayeux, na Normandia. Seus pais, fanáticos pela rica história da região, deslumbrante desde antes da chegada dos romanos por volta do ano 50 a. c., souberam seduzi-la, desde cedo, para os estudos históricos. De vez em quando, com um pequeno bouquet de flores do jardim da sua casa, ia com seus pais, como que em peregrinação, até a catedral de Fontevraut onde sua heroína estava sepultada – Eleanor da Aquitânia. A grande normanda do sec. XIII, duas vezes rainha, mulher bela, inteligente e preparada, líder que enfrentava seus maridos, e devia ser extraordinária na cama. Abandonara o primeiro dos seus maridos por ser “mais um monge que um rei”, o inexpressivo Carlos VII da França. Apoiara, com denodo, os seus filhos que se rebelaram contra o pai, os filhos que tivera com o Plantageneta Henrique II da Inglaterra, este sim um patife e um excelente amante. Sobrevivera a dois maridos e a dois filhos que também foram reis. Participara de uma cruzada, viajou pela Europa da época, era a predileta dos adoráveis trovadores que percorriam as cortes dos feudos com suas canções e fofocas sempre novas. Era a musa dos poetas. Que mulher!
Jacqueline queria ser uma nova Eleanor, a Eleanor do séc.XX. Precisava ser bela, forte, conhecedora das letras e das ciências. Esforçava-se para ser tudo isso. Era uma linda menina que prenunciava a bela mulher que viria ser. Era uma desportista, imbatível nas corridas e no tênis, uma sereia rapidíssima nas piscinas. Era a primeira da turma. Aos quatorze anos já dominava o inglês, o italiano e o latim – começava a dedicar-se ao espanhol, ao alemão e ao grego. Contra-alto, encantava os fieis de Bayeux nas missas de domingo na bela catedral gótica, com cantatas medievais eloqüentes na expressão de amor à Deus e à Virgem. No futuro gostaria de estudar o hebraico. As irmãs do colégio Nossa Senhora de Lourdes adoravam a jovem Jackie que trouxera, para a escola, o prêmio nacional do concurso de ciências e matemática. A agência de turismo de Bayeux mandara imprimir o livrinho que escrevera, como divertimento, sobre a história da Normandia.
Seus pais eram normandos também, herdeiros das tradições da região, ainda ostentavam os títulos da nobreza antiga, com orgulho: Condes d`Aubusson. Não eram milionários, mas viviam bem. Puderam, sem grandes transtornos, enviar a filha única, orgulho do casal, para estudar em Paris. Compraram um studio, de uma só peça, com banheiro privativo completo, um luxo especial para a filha querida. Uma pequena varanda, uma enorme janela e uma vista fabulosa, como a tantas outras oferecidas por essas milhares de mansardas que fazem parte destacada do charme da cidade. Paris enche os olhos de encantamento – basta olhar para qualquer lado. Jackie tinha à sua frente, o panorama completo de Montmartre, com toda a sua magia de pintores tuberculosos, prostitutas decadentes, livreiros sábios, comerciantes gananciosos, moradores generosos, e sobre tudo a sombra que abençoava da igreja de Sacre Couer.
Terminado o baccaulerat, que fez de forma brilhante, lá se foi Jacqueline para Paris. Matriculou-se nos cursos de filosofia e história da Sorbonne, com facilidade, pois seu desempenho nos testes eram objeto de comentários entre os professores. Queria ser aluna de Jacques Maritain, de Henri Bérgson, e tantos outros, mas teve de esperar e se dedicar às cadeiras introdutórias, antes de ter acesso aos grandes mestres. Lia desesperadamente, com facilidade, corria aos museus, aos teatros, aos concertos. Sua grande distração era pegar o trem de domingo, cedo pela manhã e ir a Chartres. Fez isso dezenas de vezes. Ficava na janela olhando os campos só para ver, de repente, emergir das colinas, como astros esguios, as torres enegrecidas pelo tempo, da linda catedral. Pouco a pouco elas iam crescendo e enchendo a paisagem com o cinza secular de suas pedras, a imponência leve e solene de suas formas austeras. Caminhava pela cidade, seguia sem rumo definido pelas pequenas ruas, até que chegava a praça da Catedral. Gostava da sensação renovada de surpresa. Dobrava a cabeça para trás e olhava s duas grandes agulhas que se perdiam em direção ao céu. Entrava quieta, assistia a missa, comungava, rezava e se sentava para pensar. Meditava por horas.
Porque a Igreja? Quantas orações ali foram rezadas? Alguma fora atendida? E os padres? E as religiosas? Foram felizes nas suas vocações e opções de vida? Que contribuição para a filosofia escolástica a escola de Chartres deixara? Ela sabia que monges ingleses vieram para ali, no séc.XII, reforçar o grupo que estudava e discutia os grandes temas da filosofia que, a seu ver, continuavam em aberto, valendo ainda as mesmas indagações. Teriam conhecido Anselmo, seu querido monge italiano que se torna arcebispo de Cantebury e produzido obras geniais. Tomaz de Aquino teria vindo a Chartes, rezado ali onde ela estava? E Abelardo e Heloisa também? Talvez tivessem tido encontros secretos logo ali atrás, no campo que se iniciava nos fundos da Catedral e se perdia num horizonte de belezas e de promessas.
Pelo entardecer tomava o trem de volta e se sentia bem, muito bem, cheia de perguntas e reflexões a serem apresentadas, já no dia seguinte, aos seus professores.
Quase não lia os jornais, não percebia que a Europa, naquele exato momento, construía as condições necessárias para o grande horror que eclodiria logo a seguir: a ascensão do nazismo na vizinha Alemanha e do fascismo na Itália. O passado, com suas grandes mentes testemunhais da glória da inteligência humana, era suficiente para mantê-la viva e inquieta, alegre e curiosa, feliz e despreocupada.
Setembro de 1939 – rompe a Guerra. Paris agita-se. A universidade fervilha de debates, mas a vida continua como antes, sem grandes alterações naqueles meses finais de 1939. As aulas não foram interrompidas, alguns colegas foram convocados, alguns professores, como Maritain, refugiaram-se nos Estados Unidos. Bérgson, que no fim da sua rica trajetória se aproximava do cristianismo, considerou a conversão e a fuga uma traição aos seus perseguidos irmãos judeus sair da França – adoentado e possuído de uma tristeza enorme, com o que estava acontecendo com o seu mundo, morreu em 1941.
A França vencida é ocupada. Paris invadida pelos boches arrogantes – muitos choravam, em plena rua, de vergonha e de humilhação.
No Natal de 1940, na missa de Notre Dame, conheceu Dietrich von Rundestet. Um jovem capitão do exercito alemão que trabalhava no setor de informações. Também era, antes de convocado, um matemático professor em Heidelberg. Agora decifrava códigos.
O amor nasceu de um olhar. Depois vieram as primeiras tímidas palavras, o segurar as mãos, o beijo, a entrega plena ao mais desvairado amor. Deixou de ser uma intelectual em formação para se entregar, plena, à aventura do amor.
Foram morar no studio de Jackie e viveram uma vida feliz por três anos e meio, por quarenta e dois meses.
Nas raras licenças do capitão Dietrich passeavam, faziam piqueniques nas cercanias de Paris e passavam horas visitando museus e monumentos, as pontes sobre o Sena era um ponto predileto para, abraçados, generosos em carinhos e beijos, silenciosamente felizes namoravam. Foram ao sul – Cap d’Antibes e se banharam no Mediterrâneo. Esquiaram nas montanhas suíças – Zermatt. Foram conhecer Heidelberg e remaram no belo rio Neckar, que circunda a cidade. Visitaram Bruges e comeram enormes tigelas de mexilhões bebendo deliciosa cerveja belga.
Em 1943, abril, em plena primavera, seus pais dirigiram-se à Paris para visitá-la. Morreram num acidente na estrada. Jackie, alguns poucos vizinhos e o vigário da Catedral de Bayeux os sepultaram no mausoléu da família. Jackie sentiu-se só. Jackie sentiu-se mulher adulta, sozinha no mundo. Seria difícil suportar a morte dos pais se não fosse à presença aconchegante de Dietrich. Fechou a casa, contatou um caseiro para cuidar do terreno e voltou à Paris.
De vez em quando viam feridos de guerra, prisões em plena luz do dia, judeus escorraçados com estrelas amarelas nos braços, caminhando humilhados e sorrateiros pelas ruas da Cidade Luz sob o olhar omisso da população que parecia concordar com a odiosa e dramática segregação e perseguição.
Não discutiam a guerra. Os dois eram contra. Jackie não aceitava a ocupação. Dietrich não tolerava o nazismo.
- Eu sou francesa patriota, querido.
- Eu sou alemão, querida, um oficial disciplinado
Deliberadamente não progrediam nessa conversa que, no intimo, amedrontava os dois, pois certamente haveria uma discordância profunda de perspectivas diversas e uma inevitável separação, que não queriam, que não aceitariam. Maior que a catástrofe que os rodeava era o amor que os consumia em felicidade irrefletida, alienada como toda paixão, gostosa pela entrega e pleno encontro de duas almas jovens, que se bastavam no sentimento que os unia. Não havia o mundo em volta, nem os outros que com a guerra sofriam por perto, havia apenas eles e a sua aventura de radical entrega ao amor.
- Jackie, você está envolvida com a Resistência?
- O que você sabe?
- Sei de alguma coisa envolvendo o teu nome, teus encontros na Universidade, panfletos, reuniões. Se te prenderem pouco poderei fazer e a Gestapo é cruel, você sabe.
- Sei. Já te disse que sou uma patriota e quero ver a Alemanha destruída e a França novamente livre.
- Nesta destruição eu também serei esmagado e nosso amor desaparecerá nas cinzas desta guerra idiota.
- Não fale assim querido, vamos viver a nossa vida enquanto pudermos. Vamos esquecer o resto. Pensemos em nós, no nosso amor. Eu não quero saber o que fazes, tente não querer saber o que eu faço, além de estudar. No fim daremos um jeito e tudo acabará bem. Finda a guerra vamos ser professores, ter filhos, muitos filhos, e seremos uma família alegre e feliz.
- Jackie, sejamos realistas, não nos iludamos. Não sei o que acontecerá no futuro que se aproxima. No momento somos vencedores e o poder absoluto está do nosso lado. Se os Aliados vencerem, o que tudo o que está acontecendo nos últimos meses leva a crer, eu serei um prisioneiro e você ficará mal junto aos seus compatriotas. Cuide-se, são tempos difíceis estes que estamos vivendo, não sonhe muito...
Mas ela sonhava, vivia um sonho, acreditava que nada mudaria.
Então se abraçavam, ficavam calados, tristes por instantes, esperavam o tempo passar, como que se assim procedendo pudessem adquirir o dom de afastar os acontecimentos que se desenrolavam, inflexíveis, do lado de fora da janela do quarto. Nada poderia modificar a essência dos fatos, a realidade, que, pouco a pouco, deles mais se aproximava.
Dia após dia permaneciam juntos, mais calados e mais abraçados, numa angustiada expectativa do futuro que sabiam não poder modificar mas que não queriam aceitar. Porque não podemos ser felizes? Perguntavam a si mesmos, perplexos por uma não resposta sempre a surgir de forma implacável. Impotentes perante a história, que avançava com dinâmica própria, percebiam que algo intangível começava a estrangular o retiro que haviam construído e os sonhos que haviam acalentado. O studio não era mais um refugio seguro – os fatos cruéis da guerra arrobavam as paredes e se colocavam na frente do jovem casal, como a mitológica esfinge dizendo a cada momento: decifra-me ou te devoro...
Jackie, na Universidade, ajudava a Resistência com pequenas atividades de panfletagem, de recolhimento de dinheiro, de transporte de correspondência entre pessoas nos mais variados pontos de Paris. Um dia conheceu, rapidamente, o famoso líder, muito procurado pela Gestapo, Jean Moulin. Fora levar-lhe uns papeis na estação de Austerlitz. Reconheceu o combatente, entregou os papeis e o dinheiro, disseram adeus e cada um foi para o seu lado. Moulin estava indo para o sul. Soube, pouco depois, que havia sido preso, torturado e morto pelos alemães.
6 de Junho de 1944 – a invasão da Normandia. Bayeux, a cidade de Jackie, foi a primeira grande cidade francesa a ser libertada. Frenesi no quartel general alemão em Paris. Dietrich disse que teria de partir. Jackie pediu que ficasse escondido ou se entregasse. A Alemanha já havia perdido a guerra. Porque este esforço, esta devoção por uma causa em que não acreditava? A Resistência estava assanhada, cada vez mais audaciosa nas ruas de Paris com a aproximação das forças Aliadas. Comentava-se que o general Leclerc, com seus tanques, já estavam nas cercanias de Fointanebleau.
Dietrich, uma manhã bem cedo, como em todos os dias, saiu do studio, fardado, e dirigiu-se para o seu trabalho. Foi morto com três tiros, à queima roupa, na frente do prédio onde moravam. Jackie, que sempre ficava na pequena sacada para abanar um adieu a tudo assistiu sem nada poder fazer. Nem um grito, nem um lagrima – apenas a surpresa, a estupefação com a brutalidade do ato. Os partisans subiram as escadas, algemaram-na, cuspiram no seu rosto, bateram muito e diziam com sumo desprezo:
– colaboracionista de merda.
Foi escondida num porão. Imunda, cheia de feridas, foi trazida para fora no dia da libertação de Paris. Seus cabelos foram cortados com uma tesoura cega o que provocou vários cortes dolorosos na sua cabeça. Mais pancadas, mais cusparadas e a determinação de também enforcá-la sumariamente, como outras mulheres que já haviam sido executadas por terem namorado o invasor agora vencido, ou vendido seus corpos para poder sobreviver. O império da impensada selvageria patriótica, odiosa e vingativa, imperava naqueles dias de libertação nacional. Descarregavam a reprimida tensão de quase cinco anos de opressão nazista em pobres mulheres. Alguns colegas da universidade, ao presenciarem a cena, a resgataram da turba enfurecida e a esconderam por meses. Quando a situação se aquietou ela foi até a Normandia, vendeu todos os seus bens, transformou o resultado das vendas em ouro e pedras preciosas, juntou alguns dos seus livros, algumas roupas e do Havre embarcou no primeiro navio do Loyde Brasileiro para Porto Alegre.
Trouxe poucos pertences, muita magoa, ressentimentos e tristeza. Uma enorme e dolorida indagação contra tudo e contra todos. Só queria estar longe da França, da Europa, lugar aonde fora muito feliz e muito sofrera, e ter tempo para pensar e entender o que havia acontecido, o porquê do acontecido.
Queria chegar a Ana Rech e encontrar seu antigo querido professor e amigo, o Pe. Ferdinand, única pessoa que queria ver e em que confiava. Ele a havia convencido da necessidade de mudança de ambiente. Então viajou sabendo que iniciara a construção de uma nova etapa na sua vida, um ponto de inflexão, radical e definitivo, da sua existência. Uma mudança, sem volta, decisão tomada num momento em que nada mais fazia sentido.
O Pe. Ferdinand Obville estava em Ana Rech desde 1924. Recém ordenado no Eremitério de Camoldi, nas montanhas centrais da Itália, perto de Arezzo, apresentou-se ao Abade para vir como missionário para o Brasil. Sua ordem religiosa enviaria mais uma leva de missionários para ajudarem a Diocese de Caxias do Sul. A pedido do Bispos locais, que precisavam de padres para atender aos imigrantes que chegavam em grande numero, Ordens religiosas na Europa, desde o sec. XIX enviavam centenas de missionários. Os Camaldulenses, apesar de ser uma Congregação pequena, enviaram a primeira leva que viera em 1877 – trabalhavam na agricultura junto com os outros migrantes italianos, ensinavam-lhes técnicas de cultivo das vinhas, do milho, das frutas, davam aulas no colégio que também mantinham e pregavam o Evangelho, sua principal missão. Ferdinand entrara na Congregação em 1918, logo depois do fim da Grande Guerra 1914-1918. A ordem fundada por São Romualdo, um ramo dos beneditinos, propugnava pelo recolhimento, trabalho e oração. Permanecia a intuição original de São Bento – ora et labora – que tanto sucesso tivera, levando a palavra de Deus por toda a Europa e depois pelo mundo a fora. Acrescia, nos camaldulenses, o voto do silêncio. Não falavam, a não ser nas missas no Natal e na Páscoa, cultivando o total recolhimento, clausura e trabalho com a agricultura.
Atentos aos apelos dos Bispos das regiões novas para a ação catequética, às necessidades dos imigrantes que precisavam de assistência religiosa, junto com outras ordens, colaboraram com alguns missionários. Não eram numerosos, mas eram sensíveis aos apelos do episcopado do Novo Mundo. Assim, dispensados do voto do silêncio, vieram parar em Ana Rech – primeiro três, depois mais dois e por fim o ultimo grupo de dois, do qual o Pe.Ferdinand participou. Três anos depois, com o reduzido numero de monges na Casa Geral e com o aumento das vocações de padres locais, chamaram de volta todos os missionários. Ferdinand não quis voltar – apegara-se à nova terra, ao seu povo, ao clima, à paisagem Não foi fácil não voltar e permanecer padre. Por fim veio a dispensa e a permissão para que ingressasse na congregação que iria substituir os antigos monges, os Murialdinos de São José, que até hoje permanecem na pequena cidade da serra gaúcha.
Ferdinand nasceu em Bayeux em 1880, filho de fazendeiros que cuidavam de vacas leiteiras, vinhedos e batatas. Sempre gostou de trabalhar na terra. Estudou na escola publica, um bom aluno, religioso como toda família, encantou-se com a literatura francesa, a filosofia e a matemática. Era professor de francês e de matemática no liceu Nossa Senhora de Lourdes quando lá ingressou, ainda pequena, Jacqueline, no mesmo ano em que estourava a guerra, a de1914. Acompanhou a pequena Jackie desde o primeiro ano e ficou muito amigo dos seus pais. Freqüentava a casa dos condes d’Aubousson, orientava as leituras da menina e passava horas conversando com a inteligente aluna. Em 1916, com a França precisando de oficiais que morriam a cada instante, na infindável batalha das trincheiras, que não decidia o vencedor mas ceifava vidas em profusão, dos dois lados , franceses e alemães, Ferdinand foi convocado. Horrorizou-se com a carnificina e, finda a guerra, já com o diploma de filosofo cursou teologia e quis se afastar do mundo para orar e pensar. Precisava entender o que se passara, os horrores das batalhas que participara onde os homens se matavam pela simples razão de ordens superiores recebidas, de um esgarçado sentimento de patriotismo, de uma promessa de uma mal definida liberdade que, ao final, seria o prêmio para tanto sofrimento. Procurou os camaldulenses. Aceito pela Ordem de eremitas, na abadia de Camoldi, onde foi ordenado padre. De lá veio para Ana Rech.
Nunca se esqueceu de Jacqueline nem ela do seu amigo professor. Mantiveram correspondência constante e ele falava da serra gaúcha, da vida com os imigrantes italianos, da escola, da paisagem, do inverno frio e nevoento, dos verões gloriosos de sol e temperatura amena, para a alegria da francesinha que morava, então, em Paris. As cartas rarearam com a guerra de 1939 e foi retomada no final de1944. O Pe. Ferdinand soube dos sofrimentos da sua amiga e de sua determinação de se isolar de tudo. Escreveu convidando:
- Venha para cá, novas paisagens te farão bem.
Jacqueline pensou, ponderou as alternativas, que eram poucas, decidiu-se e embarcou para o Brasil.
- Preciso de um amigo verdadeiro e sei que só tenho um.
- Preciso de novos ares, de novas paisagens, de tempo para pensar e entender, senão enlouqueço. Não tenho mais ninguém, diplomas não me interessam, conviver não consigo mais, pois em cada pessoa reconheço, antes de tudo, um falso com suas falsidades. Tenho algum dinheiro e posso experimentar. Eu vou me embora e tentar recomeçar minha vida. Não tenho forças para o suicídio como o Stefan Zweig e sua esposa tiveram, lá no Brasil, numa cidade chamada Petrópolis, horrorizado e amedrontado com o futuro da espécie humana, fantástico humanista que era. Não perdi minha fé mas não sei mais rezar – Deus me espanta e me irrita. Os livros me entendiam a partir da terceira pagina... As pessoas me amedrontam ou me entendiam. Vou-me embora. A França me trás saudades irreconciliáveis e lembranças insuportáveis.
O encontro dos dois amigos, na estação da Caxias, foi tenso, terno e pleno de rápida alegria.
- Jacqueline, minha filha.
- Ferdinand, mon pére. Então, abraçados, para espanto das pessoas que desciam do trem, dos carregadores que esperavam com as malas, dos motoristas dos cinco taxis alugados, o padre e a moça choraram muito, convulsamente, por um largo espaço de tempo.
- E nada mais disseram.
- Ele chorava pelo sofrimento dela.
- Ela pelo vazio de uma família que não mais existia. Pelas desconhecidas razões para todo o acontecido. Pela distância de intenções e expectativas entre as pessoas impossíveis de serem transpostas.
- Não disseram mais nada. As lagrimas satisfizeram os dois. E foi assim, por muito tempo ainda, nos encontros que passaram a ter. Um silêncio que aproximava, lagrimas que satisfaziam e regavam uma esperança tênue e frágil, como que forçando os dois a continuarem a se encontrar, a viver suas vidas na procura de respostas.
- Nos primeiros encontros longos silêncios. Depois comentários esparsos e diversos. Diálogo mesmo só muito depois quanto as feridas de Jacqueline começaram a cicatrizar e o padre a entender um pouco mais o que se passava naquela alma sofrida, tumultuada e dilacerada. Não fora só um amor que desaparecera – fora todo um mundo de referências, de crenças, de sonhos, que explodira em milhares de pedaços, incapazes de serem recompostos para aquela mulher.
- O que mais era dito era a permanente indagação: porque?
- Porque tudo isso, esse sofrimento todo? O que mudou com a minha dor? Não importam os outros, importa a mim, padre, a mim, que perdi um amor e uma razão para viver. Não me suicidei porque acredito em alguma coisa, não sei bem em que mas continuo a acreditar em Deus. Tenho medo de não acreditar em mais nada.
- Nossa Igreja não me satisfaz mais – colaborou com os dois lados em guerra e só não foi pior pois, nos dois lados, haviam heróis, homens e mulheres que se sacrificaram pelo bem estar e a segurança de outros, testemunharam de forma exemplar sua fé. Mas não a Igreja como Instituição.
- Onde estava Deus durante os massacres? Eu não queria ver nem saber o que estava acontecendo – queria amar. Dietrich se satisfazia decifrando mensagens codificadas. Sei, hoje, quer também erramos, mas, sem pensar em mais nada, no meio daquele tumulto endoidecido queríamos apenas nos amar e ser felizes. Até parece ser uma coisa proibida por Deus neste mundo tão controverso. A extensão da tragédia só comecei a perceber, em toda a sua crueldade e extensão, quando também comecei a sofrer. Foram crianças que morreram sofrendo e aterrorizadas, não foram só soldados. Foram velhos, foram mães que tiveram seus filhos arrancados dos seus braços para serem mortos por guardas sorridentes, alegres com seu poder de fazer o mal e submeter os outros pelo terror.
- O sobrevivente judeu do Holocausto, o filosofo Elie Wiesel, que presenciou o enforcamento, com uma corda de piano, de um garotinho judeu em Auschevitz, na frente dos demais prisioneiros que foram obrigados a assistir ao espetáculo, escreveu muito bem: “ no olhar triste de uma criança, naquele momento Deus deixou de existir...”. Sabe padre todos deveriam ler o livro do Wiesel – A Noite. Como ele diz, com objetiva concisão, o pior pecado é a omissão, o silêncio perante a barbárie que é o fim do Humanismo.
- Eu senti o silencio. Eu e o Dietrich também silenciamos e nos omitimos - nos escondemos no nosso mundo, no nosso amor e não queríamos ver nem ouvir mais nada que perturbasse a nossa felicidade, um egoísmo total. A Europa, seus governos, Igrejas, partidos políticos, sindicatos, imprensa, todos, silenciaram, se omitiram e se esconderam atrás de argumentos e justificativas políticas, mentirosas, para a tragédia que se abateu sobre continente.
- Porque padre, porque?
- Sabe padre, aquela reflexão do apostolo Paulo de que nosso sofrimento faz parte do sofrimento de Jesus pela nossa salvação, que somos “cooperadores de Deus”, não satisfaz. A idéia do infinito mistério do amor de Deus é uma argumentação melhor, mas também não consola nem faz cessar a perplexidade, por ser mistério. Há que se estar disposto a amar o mistério – coisa quase impossível padre, quase impossível quando se está desesperado. Este apelo, esta argumentação chega a soar como deboche teológico....
- O desespero silencioso, a dor interna, o medo, medo físico da dor que humilha fazendo com que as pessoas se urinem, defequem, sem poder resistir ao bofetão, a paulada, ao choque elétrico. É uma angustia permanente, o sofrimento físico não encontra alívio, mesmo com a certeza da existência deste amor distante e cerebral, fruto de um raciocínio teológico filosófico muito refinado. As pessoas não querem sofrer, as inocentes muito menos, não é aceitável além de ser incompreensível, padre.
- O velho Tomaz de Aquino disse que o viver heróico não era a condição normal do viver humano, que só os santos percebiam esta sutileza nas suas vidas destinadas a testemunhar a glória de Deus. Gente simples apenas quer viver, quer amar, quer afastamento do sofrimento, seja lá o que venha a ser este sofrimento. Não sabem pensar as razões do sofrimento. Permanecem confusos, olhos arregalados pelo espanto com o que está acontecendo, totalmente ignorantes das razões do mal que os aflige. Apenas sofrem e é muito ruim, muito ruim. Dizer que essa condição é natural à condição humana é pior, confunde mais a questão, pois neste caso, o mal estaria na origem, na própria criação – nada então deveria ter sido criado.
- Padre, não sei se o senhor leu o santo Thomas Morus, Chanceler da Inglaterra, que morreu decapitado por ordem do seu rei, Henrique VIII, pois seu mais graduado servidor se recusara a aceitar seus múltiplos casamentos... Thomas Morus, consolando sua filha, nas vésperas da sua execução disse algo que me satisfaz: “Não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, tudo o que ele quer, por pior que possa parecer-nos, é o que há de melhor para nós...”. Deus, infinito Bem, não criou o mal, sei disso. Mas deixando a responsabilidade de administrar o Cosmo a nós, sua obra mais querida, Sua imagem, fez uma péssima escolha, pois não sabemos usar nossa liberdade, muito menos a nossa inteligência e Ele ficou no seu lugar nos observando, certamente com muita tristeza, e nós, mais certamente ainda, com enorme sofrimento construindo a história....
- Sabe padre, vamos tomar este chá gaúcho, este tal de chimarrão e calar a boca pois, pelo menos, desfrutaremos o conforto da nossa amizade, de estarmos juntos e de podermos presenciar este belo por do sol. Nossas conversas não nos levam a uma conclusão, nem ao indício de construção de um início de uma possível resposta, au contraire... está se transformando num jeu de mots... um jogo de palavras que frente a enormidade da indagação é um jogo idiota...
- O padre entendia.
- Abrigava no seu coração as mesmas indagações – conhecia a Deus pela observação da beleza da natureza, era quase um epicurista. Conversava com Ele na oração, senti a Sua Presença no amanhecer e no entardecer, no céu estrelado, no silêncio das madrugadas frias, na musica, no canto, na oração sem palavras que o êxtase do belo natural trazia consigo e apontava para a face de Deus. Percebia a presença de Nossa Senhora, o ser humano que mais sofrera, como que segurando a sua mão quando estava a cuidar dos pobres que queriam tão pouco e não tinham duvidas doutrinais tão sofisticadas para discutir.
- Escandalizava-se quando se apercebia pensando na cúpula de São Pedro caindo e esmagando certos Papas, muitos cardeais e bispos, centenas de religiosos e religiosas – uma limpa geral que em muito iria melhorar a santidade da Igreja. Logo se recuperava e perdia perdão por pensamento tão brutal e mágico. Era preciso conviver, dialogar, amar uns aos outros, como Senhor nos ensinou. Mas era difícil amar um Hitler ou aquele marido canalha, seu paroquiano, que espancava a mulher e os filhos mantendo várias amantes sem dar de comer e de vestir à sua família.
- Nestes momentos sentia saudades do seu convento lá na longínqua Itália – silencioso, muros altos separando um local de santidade do resto do mundo cruel que estava ali, logo depois das muralhas. Então orava, lá nos camaldulenses, de forma pura e completa, sem grandes indagações - pura contemplação do amor divino.
- Aqui em Ana Rech não. Aqui eram preces e intervenções concretas – fome, doença, desemprego, seca, perseguição política, adultério, coisas concretas – meu Deus como falar de Ti para uma mulher analfabeta, angustiada que está morrendo com um dolorido câncer no estomago? Então voltava-se para a Senhora de Caravaggio e pedia discernimento, fé e um mínimo de compreensão ao Deus que percebia que o amparava a cada instante. Nada acontecia além de percepções e ele, um padre, se encontrava perdido, só, também sem respostas, tendo apenas a sua fé infantil para sustentar-lo, aquela que sua mãe lhe transmitira – a que não precisava de estudos profundos nem de provas, aquela que alegrava e o conduzira ao altar. Aquela que bastava dizer, afirmando: – eu creio.
- Jacqueline parecia entender os silêncios constrangidos do padre e não mais insistia com suas impertinências teológicas. Pelo menos alguém a ouvia e só a possibilidade de falar, de extravasar suas angustias, a aliviava dando-lhe forças para poder continuar a viver.
- Então resolveu começar a escrever. Comprou cadernos simples e grossos e ali foi deixando, da forma mais organizada e completa possível suas perguntas, as respostas que encontrara e as muitas indagações que a afligiam, as conversas com o padre Ferdinand. Por anos encheu dezenas de cadernos, contando histórias, relembrando fatos, tecendo comentários, argumentando as questões que não deixavam de afligir seu coração: - a natureza do bem e do mal.
- Os encontros continuaram por anos, mesmo com os dois envelhecendo. Então o PE. Ferdinando morreu dormindo.
- Jacqueline, sem com quem mais conversar, só saia para as missas de domingo e as caminhadas nas noites de lua cheia. Escrevia muito. Morreu sentada, escrevendo, antes do chimarão das 17 horas. A ultima frase, com letra tremula, dizia: - Não sei se Dietrich acompanharia estes meus pensamentos, nunca conversamos sobre estes assuntos, no entanto acredito que concordaria com quase tudo e continuaria a se dedicar às suas equações depois de me trazer violetas e de beijar meus lábios...
- Foi enterrada no dia seguinte.
- Dois dias depois Noca foi embora deixando a chave no armazém em frente. Antes de sair passou a noite queimando, na lareira, os cadernos da Dona Jacqueline, como ela pedira.
- Não sabiam a quem avisar. A prefeitura notificou o Consulado Francês. Reforçaram as trancas e esperaram a justiça decidir o que fazer com a casa e os móveis, livros. Esperaram dez anos para que tudo fosse leiloado. Hoje se ergue uma bela mansão no lugar e poucos no bairro se lembram da francesa.
Eurico de Andrade Neves Borba
Enviado por Eurico de Andrade Neves Borba em 02/09/2010